entre Igreja e Império Romano
Historiador entende que a aproximação
entre as partes se deu fundamentalmente
por iniciativa de clérigos
Historiador entende que a aproximação
entre as partes se deu fundamentalmente
por iniciativa de clérigos
 Em dissertação de mestrado apresentada ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp, o historiador Robson Murilo Della Torre propõe uma nova leitura dos documentos que tratam da relação entre Igreja e Império Romano durante o principado de Constantino (início do século IV), o primeiro imperador a se declarar publicamente cristão. Ao contrário do que frequentemente registram os pesquisadores do tema, o autor do trabalho considera que a aproximação entre as partes teria se dado muito mais pela ação dos bispos, preocupados em defender e ampliar direitos e benefícios das comunidades cristãs, do que pela iniciativa da corte imperial, eventualmente interessada em obter vantagens com a possível submissão dos fiéis às suas políticas. O trabalho foi orientado pela professora Neri de Barros Almeida.
Em dissertação de mestrado apresentada ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp, o historiador Robson Murilo Della Torre propõe uma nova leitura dos documentos que tratam da relação entre Igreja e Império Romano durante o principado de Constantino (início do século IV), o primeiro imperador a se declarar publicamente cristão. Ao contrário do que frequentemente registram os pesquisadores do tema, o autor do trabalho considera que a aproximação entre as partes teria se dado muito mais pela ação dos bispos, preocupados em defender e ampliar direitos e benefícios das comunidades cristãs, do que pela iniciativa da corte imperial, eventualmente interessada em obter vantagens com a possível submissão dos fiéis às suas políticas. O trabalho foi orientado pela professora Neri de Barros Almeida.
Della Torre conta que começou a trabalhar com a temática ainda na iniciação científica. Na graduação, durante a leitura dos documentos, um aspecto chamou a atenção dele. Vários autores partiam da concepção de que o Império teria cooptado a Igreja, para que esta lhe servisse de instrumento ideológico. “A partir do contato com esses textos, considerei que a relação entre Império e Igreja merecia ser analisada não tanto a partir dos interesses da corte, mas sim dos clérigos. Temos vários indícios na documentação, principalmente nos escritos do bispo palestino Eusébio de Cesaréia, nos quais meu trabalho se baseou, de que os representantes da Igreja se dirigiam com certa frequência ao imperador para pedir a concessão de benefícios ou a ratificação de direitos ancestrais da Igreja, que não estavam consolidados no direito romano”, afirma.
 Entre os benefícios pleiteados pelos religiosos estavam, por exemplo, a obtenção de isenções fiscais, de privilégios jurídicos e de recursos financeiros para a construção de templos. “Esse tipo de relação, vale registrar, antecede Constantino. Já é possível identificar o movimento de aproximação entre Igreja e Império desde meados do século III. Em 270, por exemplo, um bispo pediu ao imperador Aureliano que este revertesse a decisão conciliar que o havia afastado da igreja de Antioquia, no que foi atendido. O dado interessante é que o referido imperador, além de pagão, determinou mais tarde uma perseguição aos cristãos, que acabou fracassada, uma vez que ele morreu antes do início das ações”, relata.
Entre os benefícios pleiteados pelos religiosos estavam, por exemplo, a obtenção de isenções fiscais, de privilégios jurídicos e de recursos financeiros para a construção de templos. “Esse tipo de relação, vale registrar, antecede Constantino. Já é possível identificar o movimento de aproximação entre Igreja e Império desde meados do século III. Em 270, por exemplo, um bispo pediu ao imperador Aureliano que este revertesse a decisão conciliar que o havia afastado da igreja de Antioquia, no que foi atendido. O dado interessante é que o referido imperador, além de pagão, determinou mais tarde uma perseguição aos cristãos, que acabou fracassada, uma vez que ele morreu antes do início das ações”, relata.
O principado de Constantino, conforme o autor da dissertação, é emblemático no que se refere à análise da relação entre Igreja e Império justamente porque o imperador foi o primeiro a se declarar cristão. “Durante o período em que ele esteve no poder, porém, não ocorreu uma ruptura com um suposto passado idílico no qual os cristãos teriam rejeitado todo e qualquer contato com os poderes constituídos, mas sim o ápice de um processo que já vinha em curso, principalmente por iniciativa clerical”, defende Della Torre. Com Constantino, prossegue o historiador, ocorre uma maior abertura aos cristãos. Cria-se, por exemplo, um novo corpus legislativo para tratar de ações da Igreja. “É importante notar que essa abertura seria em vão se não houvesse o interesse da Igreja em participar e se não houvesse esse histórico de busca pelo poder imperial para defender seus interesses”, insiste.
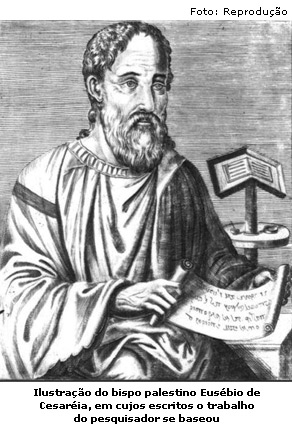 De acordo com Della Torre, Constantino também foi o primeiro imperador a isentar os clérigos de obrigações civis, como prestar serviços públicos. A justificativa apresentada por ele era de que os religiosos não precisavam deixar suas obrigações com Deus para cumprir tais tarefas. A despeito de as comunidades cristãs terem conquistado inúmeras vantagens junto ao poder imperial no período considerado, a relação entre as instituições nem sempre era tranquila, como assinala o autor da dissertação. No final do século IV e início do V, a negociação entre as partes, dependendo do tema em questão, era bastante espinhosa. Um exemplo nesse sentido era confisco dos templos pagãos, que em alguns casos eram revertidos para a Igreja. “O Império tinha dificuldade de atender a esse tipo de interesse dos clérigos porque os pagãos eram súditos como quaisquer outros. Eles pagavam seus impostos e não ofereciam problema ao poder constituído. No começo do século V, o imperador Arcádio se negou a atender esse tipo de pedido, justificando que a medida poderia gerar tumulto, uma vez que os pagãos cumpriram seus deveres normalmente”, explica Della Torre.
De acordo com Della Torre, Constantino também foi o primeiro imperador a isentar os clérigos de obrigações civis, como prestar serviços públicos. A justificativa apresentada por ele era de que os religiosos não precisavam deixar suas obrigações com Deus para cumprir tais tarefas. A despeito de as comunidades cristãs terem conquistado inúmeras vantagens junto ao poder imperial no período considerado, a relação entre as instituições nem sempre era tranquila, como assinala o autor da dissertação. No final do século IV e início do V, a negociação entre as partes, dependendo do tema em questão, era bastante espinhosa. Um exemplo nesse sentido era confisco dos templos pagãos, que em alguns casos eram revertidos para a Igreja. “O Império tinha dificuldade de atender a esse tipo de interesse dos clérigos porque os pagãos eram súditos como quaisquer outros. Eles pagavam seus impostos e não ofereciam problema ao poder constituído. No começo do século V, o imperador Arcádio se negou a atender esse tipo de pedido, justificando que a medida poderia gerar tumulto, uma vez que os pagãos cumpriram seus deveres normalmente”, explica Della Torre.
Ainda segundo a leitura proposta pelo pesquisador, embora a aproximação entre Igreja e Império tenha se dado fundamentalmente por iniciativa da primeira, o segundo também auferia vantagens com essa relação. A principal delas, no entender de Della Torre, era o fato de os clérigos não provocarem tumulto, dado que tinham poder para isso. “Na época, não era raro as facções eclesiásticas digladiarem entre si, o que perturbava a ordem pública. Há um episódio ocorrido em Roma, em 366, no qual dois candidatos ao episcopado se enfrentaram no interior de uma igreja. Segundo os relatos de um autor pagão, o resultado do confronto foi a morte de 3mil pessoas. Ou seja, o Império tinha todo o interesse de que esses acontecimentos não se repetissem. Em outras palavras, o poder imperial esperava que a Igreja adotasse uma posição conciliadora e não trouxesse problemas”.
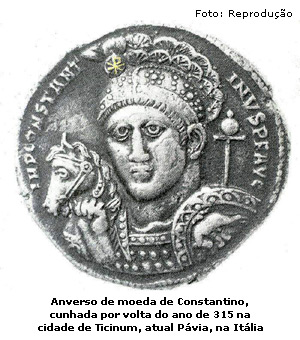 Na opinião de Della Torre, ao lançar o olhar para os acontecimentos do século IV, é possível compreender melhor as questões de hoje. “Penso que um ponto importante do trabalho é justamente pensar como as igrejas já lidaram de modo diferente com o poder secular. Atualmente, a relação das igrejas com as diferentes esferas de governo se dá de forma direta, entre bispos, padres e pastores e as autoridades constituídas. Há uma defesa de interesses muito particular. Eu não vejo, como ocorria no século IV, as igrejas mobilizando fiéis para fazer valer os interesses da comunidade. Exceto no caso da última eleição presidencial, em que o tema do aborto deu o tom dos debates e obrigou as igrejas a se manifestarem publicamente a respeito, a relação entre as partes se dá de modo mais restrito”, considera. De certa forma, continua o historiador, esse novo modelo de relacionamento advém do movimento reformista cristão, que estabeleceu uma clara divisão entre Igreja e Estado, o que não havia no século IV.
Na opinião de Della Torre, ao lançar o olhar para os acontecimentos do século IV, é possível compreender melhor as questões de hoje. “Penso que um ponto importante do trabalho é justamente pensar como as igrejas já lidaram de modo diferente com o poder secular. Atualmente, a relação das igrejas com as diferentes esferas de governo se dá de forma direta, entre bispos, padres e pastores e as autoridades constituídas. Há uma defesa de interesses muito particular. Eu não vejo, como ocorria no século IV, as igrejas mobilizando fiéis para fazer valer os interesses da comunidade. Exceto no caso da última eleição presidencial, em que o tema do aborto deu o tom dos debates e obrigou as igrejas a se manifestarem publicamente a respeito, a relação entre as partes se dá de modo mais restrito”, considera. De certa forma, continua o historiador, esse novo modelo de relacionamento advém do movimento reformista cristão, que estabeleceu uma clara divisão entre Igreja e Estado, o que não havia no século IV.
A pesquisa desenvolvida por Della Torre, como já mencionado, foi baseada fundamentalmente nas obras de Eusébio de Cesaréia, que produziu vários textos sobre o imperador Constantino. “Tentei relacionar essas obras com a produção literária mais ampla de Eusébio. Além disso, também usei documentos que me permitissem confrontar ou ampliar o que ele registrou, como os escritos de historiadores eclesiásticos do século V. Por fim, utilizei ainda tratados teológicos e textos de autores pagãos, bem como breviários dos século IV”, elenca o autor da dissertação.
O trabalho acadêmico, assinala Della Torre, está vinculado ao grupo de pesquisa do Laboratório de Estudos Medievais (Leme), que envolve, além da Unicamp, USP, Unifesp e UFMG. “A atuação do grupo é muito importante porque congrega outros estudos relativos a essa temática. Tenho colegas pensando a relação entre Igreja e Império a partir de outras perspectivas”, observa o historiador, que contou com bolsas concedidas em períodos distintos pelo Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).
.............................................................
■ Publicações
Dissertação: “A atuação pública dos bispos no principado de Constantino: as transformações ocorridas no Império e na Igreja no início do século IV através dos textos de Eusébio de Cesaréia”
Autor: Robson Murilo Della Torre
Orientadora: Neri de Barros Almeida
Unidade: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH)
Financiamento: CNPq e Fapesp
Autor: Robson Murilo Della Torre
Orientadora: Neri de Barros Almeida
Unidade: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH)
Financiamento: CNPq e Fapesp
Jornal UNICAMP
.jpg)







 A invasão
A invasão
















