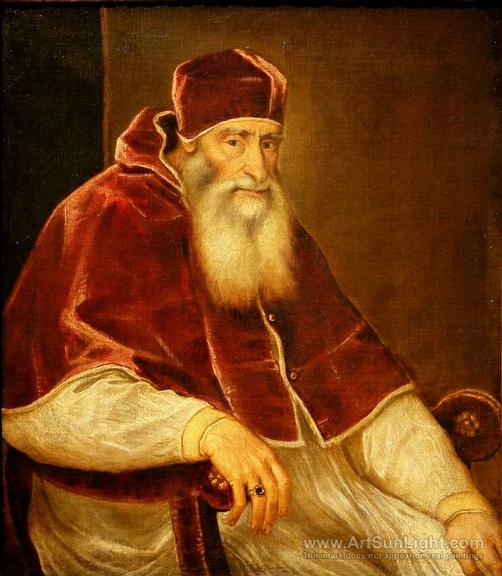Hitler: o ínicio
A infância e a juventude do mais odiado ditador da História
Luis Pereira
Um jovem quase comum | Crédito: divulg.
No filme A Queda, de Bernd Eichinger, o famoso ator Bruno Ganz interpreta Adolf Hitler em seus últimos dias, acuado no bunker da Chancelaria do Reich, em pleno processo de negação e declínio psicológico. A atuação magistral de Ganz fez com que muitos se perguntassem: “Podemos retratar Hitler como um ser humano?”. O historiador alemão Volker Ullrich defende que não só podemos como devemos. Ullrich é o autor de uma nova biografia do ditador nazista, Adolf Hitler Vol. 1 – Os Anos de Ascensão, 1889-1939 (Amarilys, 2016). O trabalho, aclamado pela crítica e best-seller instantâneo na Alemanha e na Inglaterra, é o primeiro tomo de uma obra em dois volumes que se propõe a preencher lacunas na bibliografia já existente e, principalmente, tratar do ser humano por trás da persona pública.
O simples processo de demonização, segundo o autor, é um erro perigoso, pois distorce a avaliação da verdadeira personalidade de Hitler, com suas contradições e antagonismos, deixando de lado os traços empáticos que fizeram dele um líder palatável às massas populares e às elites política e econômica da Alemanha. O objetivo é desconstruir o mito Hitler, presente de variadas maneiras na literatura e no debate público após 1945 como uma “fascinação (negativa) pelo monstro”. Na nova obra, Hitler é “normalizado”, mas isso não o torna “mais normal”; pelo contrário, ele parece ainda mais indecifrável. Sua imagem torna-se mais complexa, um homem de muitas faces, sempre adaptadas a diferentes públicos.
Baseando-se em pistas conhecidas e documentos revelados apenas recentemente, Ullrich discute que, se não fosse pela Primeira Guerra Mundial e as revoluções sociais que ela provocou na Europa, talvez Hitler permanecesse uma figura desconhecida às margens da História. Suas origens são, para dizer o mínimo, nebulosas. “Não sei de nada sobre a história da minha família. Nessa questão, sou uma pessoa muito mal informada (...) sou completamente desprovido de sentimentos familiares e não tenho nenhuma ligação com um clã. Isso não é de minha natureza. Eu pertenço à minha comunidade étnica”, confessou Hitler em 1942, num de seus muitos monólogos.
Talvez ele visse boas razões para ocultar sua ascendência.
 O bebê Adolf Hitler
O bebê Adolf Hitler
O pai de Hitler, Alois Schicklgruber, era um filho ilegítimo adotado por um tio postiço, Johann Nepomuk Hiedler (irmão mais novo do marido da mãe de Alois), numa história enrolada que sugere algum escândalo familiar abafado. Somente aos 19 anos Alois foi registrado como filho legítimo de Johann Georg, o irmão de Johann Nepomuk. Nessa ocasião, o notário alterou o sobrenome Hiedler para Hitler. Alois Hitler viria a ser um funcionário-modelo na alfândega de Braunau. Em 1885, após ficar viúvo pela segunda vez (as taxas de mortalidade na época eram altíssimas), Alois casou-se com Klara Pölz. Klara era neta do tio postiço de Alois. Portanto, se de fato Alois era filho de Johann Georg, os dois seriam primos em segundo grau. Se, como se suspeita, fosse filho de Nepomuk, o parentesco seria ainda mais próximo, o de tio e sobrinha. Em 1889, nascia Adolf Hitler, o quarto filho do casal (os três primeiros morreram cedo). Boatos sobre uma possível origem judaica de Hitler (que circulavam desde a década de 1920) não se confirmaram. Ainda assim, é irônico que o ditador que exigia um certificado de “ascendência ariana” de cada cidadão alemão não fosse capaz de demonstrar a própria.
Existem poucos testemunhos sobre os primeiros anos de vida de Adolf Hitler. As informações publicadas por ele sobre o ambiente familiar no primeiro capítulo de Minha Luta certamente são uma mistura de meias-verdades e invenções, com as quais tentou angariar simpatias e tornar crível sua vocação política como líder de um novo Reich alemão. Sabe-se que Alois fora um pai severo, adepto de castigos físicos. A experiência da violência doméstica foi interpretada como uma das causas para a política assassina do ditador. No entanto, Ullrich adverte que se deve tomar cuidado ao tirar conclusões: naquela época, castigos físicos eram comumente usados com finalidade educativa. Um pai repressor e uma mãe amorosa não eram uma combinação rara entre as famílias de classe média por volta da virada do século. Hitler, portanto, teve uma infância bastante normal.
Juventude incerta Nos anos escolares
Nos anos escolaresAdolf Hitler fora um excelente aluno nos primeiros anos escolares. Como todos os garotos de sua idade, era leitor dos romances de aventura do escritor alemão Karl May (dizem que durante a guerra, principalmente nas situações mais difíceis, Hitler citava um dos heróis de May, o índio apache Winnetou, como um “paradigma de comandante militar”). Entretanto, quando fez a transição para a escola secundária em Linz, Hitler passou a ser mais um entre muitos. Terminou por abandonar a escola, após reprovações e resultados medíocres.
O fracasso em terminar o grau secundário custou caro, quando ele se inscreveu para o exame de admissão na Academia de Belas-Artes de Viena, já que o diploma era um requisito básico. Hitler (mais livre após a morte do pai, em 1903) passara a fazer visitas frequentes à capital, em que se deleitava com as paisagens da metrópole austríaca, com seus museus, a ópera, o Parlamento e a magnífica Ringstrasse. O fracasso acadêmico, que ele não contara à família ou aos amigos, foi difícil de aceitar. Muitos atribuem a perseguição aos intelectuais e seu desprezo pela intelligentsia alemã como resultado dessa rejeição.
O ano de 1907 foi marcado pela morte da mãe, em consequência de um câncer de mama. “Em meus quase 40 anos de atividade, nunca vi um jovem tão indescritivelmente triste e arrasado como o jovem Adolf Hitler”, escreveu o médico judeu que tratara Klara Hitler, doutor Eduard Bloch, em uma anotação de 1938. Não há indícios de que o tratamento médico feito por Bloch tenha sido a causa do patológico ódio antissemita de futuro Führer. No próprio dia do funeral, Hitler foi até o consultório dele para agradecer pelos cuidados com a mãe. Em 1938, quando o líder fez sua entrada triunfal na “cidade natal” Linz, após ter anexado a Áustria, dizem que perguntou imediatamente pela saúde do “bom e velho doutor Bloch”. Dentre todos os judeus de Linz, Hitler colocou o médico sob a proteção da Gestapo. No final de 1940, a família Bloch conseguiu emigrar em segurança para os Estados Unidos.
Há relatos de que Hitler também manteve relações cordiais com judeus nos abrigos e pensionatos vienenses em que morou entre 1908 e 1913. Viena era na época a grande metrópole europeia, centro de uma vida econômica e cultural efervescente, com uma enorme comunidade de intelectuais e artistas de vanguarda. Naquela cidade, os problemas do Estado multinacional austro-húngaro podiam ser observados como numa lente de aumento. Nenhuma outra apresentava uma taxa de imigrantes tão elevada. A reação dos habitantes locais ao “perigo” de uma “infiltração estrangeira” produzira desde o final do século 19 a criação de associações e partidos que estampavam o nacionalismo radical entre as suas bandeiras. A imigração maciça, principalmente de judeus orientais, despertou temores de uma “judaização” de Viena; o sucesso dos imigrantes judeus, bem-educados e orientados a subir na vida, despertou inveja e amargura nos habitantes nativos.
Hitler escreve em Minha Luta que os anos em Viena foram de miséria e pobreza. Outra meia-verdade, pois, enquanto durou a herança materna, a pensão de órfão e a ajuda que recebia de uma tia, Hitler teve condições de manter seu estilo de vida habitual: não fazer nada. Quando a tia que o socorria também faleceu, ele então teve de buscar o próprio sustento.
Artista sem futuroNo outono de 1909, Hitler chegou a viver num abrigo para moradores de rua, onde conheceu Reinhold Hanisch. De manhã cedo, os ocupantes do abrigo tinham de deixar o lugar, retornando somente à noite. Durante o dia, Hanisch e Hitler tentavam ganhar alguns trocados fazendo bicos. Ao saber da inclinação artística do colega de abrigo, Hanisch sugeriu que Hitler pintasse os cartões-postais da cidade para que ele os vendesse em bares e restaurantes, dividindo a receita. O sucesso da empreitada foi maior que o esperado e em 9 de fevereiro de 1910 ambos conseguiram trocar o abrigo por um pensionato masculino. Hitler viria a morar ali pelos três anos seguintes.
A parceria com Hanisch durou pouco.
Para que o negócio fosse rentável, era preciso pintar um quadro por dia, como cobrava o colega. Mas Hitler argumentava que se tratava de um trabalho artístico, para o qual era necessário estar inspirado; quando não estava, passava o dia lendo jornais ou participando de discussões políticas na sala de leitura do pensionato. Em agosto de 1910, Hitler acusou Hanisch de tê-lo enganado e deixado de pagar por algumas telas vendidas. Passou então a vender suas obras por meio de Jacob Altenberg e Samuel Morgenstern, dois judeus proprietários de uma loja de artes. Ambos pagavam a Hitler muito bem, permitindo-lhe independência financeira. Além de preferir fazer negócios com comerciantes judeus, Hitler mantinha boa convivência com outros moradores do pensionato que eram de origem judaica. O ex-sócio Hanisch viria a afirmar que “naquela época, Hitler não odiava os judeus. Isso só aconteceu mais tarde”.
O contraste entre o pintor de telas parceiro de marchands, colega de quarto de judeus e o futuro ditador genocida é desconcertante. Para Ullrich, uma coisa é certa: mesmo que quisesse, Hitler não teria conseguido evitar contato com correntes antissemitas naquela Viena da virada do século. Políticos vienenses que Hitler admirava batiam constantemente na tecla do inimigo externo judeu: Georg von Schörener, o líder do pangermanismo austríaco a quem Hitler cita como influência fundamental em Minha Luta, associou sua campanha pelo “germanismo” com um antissemitismo até então desconhecido na Áustria; o prefeito Karl Lueger não media palavras ao dizer que “a Grande Viena não deve se transformar numa Grande Jerusalém”, além de acusar a “imprensa judaica” de compor uma imagem estereotipada de judeus abastados, intelectualmente refinados e arrogantes. Seria uma surpresa se o jovem Hitler não tivesse sido influenciado por isso.
Um outro aspecto desses anos que alimenta a curiosidade de historiadores é a suposta homossexualidade de Hitler. Na contramão de diversas obras que veem nas ações do ditador indícios de uma orientação sexual frustrada e reprimida, Ullrich não se convence de que Hitler pudesse ter tido relações homoafetivas no período em que morou nos pensionatos masculinos. No entanto, inúmeras fontes dão conta de um comportamento celibatário do futuro Führer. Numa metrópole vanguardista e de costumes em ebulição como era Viena, em que peças teatrais de Arhtur Schnitzler e quadros permissivos de Gustav Klimt causavam escândalo, o jovem Hitler vivia um ascetismo quase monástico.
Ao que tudo indica, ele também não recorria a prostitutas. Segundo um amigo da época, isso se dava principalmente pelo medo de contrair uma doença sexualmente transmissível bastante comum na época: a sífilis. Mas talvez a ideologia pangermanista de Schörener também tenha desempenhado um papel nisso. Além de defender a superioridade cultural dos alemães, a dissolução do império multinacional Habsburgo e a formação de um Império Alemão único, Schörener defendia também o celibato até os 25 anos, a fim de tonificar a força física e intelectual. Se Hitler se manteve fiel a esse mandamento de castidade, ele ainda não tinha dormido com nenhuma mulher ao deixar Viena, aos 24 anos de idade.
Hitler já pensava em emigrar para a Alemanha havia algum tempo. Munique era a cidade que mais o atraía. Ali, ele frequentou o meio boêmio de Schwabing e seguiu ganhando a vida pintando paisagens. Sua senhoria o descreveu como um jovem retraído, que se fechava no quarto como um eremita. Para Ullrich, a falta de contatos era apenas um sinal externo de sua profunda insegurança interna. Após um ano na cidade, Hitler teve de admitir que sua carreira artística não lhe oferecia futuro. Somente o início da Primeira Guerra Mundial, no começo de 1914, o libertaria daquele estado frustrante e sem perspectivas.
Primeira Guerra Mundial Cabo Hitler
Cabo HitlerA escalada de hostilidades que se seguiu ao assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando produziu na Alemanha um estado de euforia patriótica a favor da guerra. O escritor Stefan Zweig viria a descrever esse momento “arrebatador” como “algo de que era difícil escapar”. Com o início do conflito, Hitler afirma ter obtido uma autorização do rei Ludwig III da Baviera para servir em um regimento bávaro apesar de sua nacionalidade austríaca. O mais provável é que naqueles dias tumultuados ninguém checasse com afinco a nacionalidade dos recrutas voluntários; do contrário, Hitler não poderia ter servido.
Em meados de outubro de 1914, o recruta Hitler enfrentou seu “batismo de fogo”. Seu regimento lutou em violentas batalhas homem a homem no front ocidental, tendo perdas imensas (de 3 500 oficiais, restaram 600). Em novembro, Hitler seria promovido a cabo, encarregado de levar mensagens e ordens dos comandantes de regimento até a linha de frente. Segundo Hitler, esse trabalho colocava todos os dias sua vida em risco. Para os soldados de trincheira, os mensageiros militares não passavam de oficiais de caserna. De uma forma ou de outra, Hitler escreveu em Minha Luta: “O horror assumiu o lugar do romantismo da guerra. O entusiasmo arrefeceu gradualmente e o júbilo excessivo foi sufocado pelo medo da morte”. Antes mesmo do final da guerra, a direita radical e os pangermanistas já haviam eleito bodes expiatórios para os revezes da Alemanha: as “atividades subversivas” de sociais-democratas e esquerdistas em geral, e a suposta falta de engajamento dos judeus no esforço de guerra. A despeito dos milhares de judeus que morreram nas trincheiras, foi convocada em 1916 uma “contagem de judeus” a fim de verificar a situação do serviço militar de judeus alemães (um primeiro passo para os registros que viriam a ocorrer nos anos seguintes). Em 1918, diante da derrota iminente da Alemanha, esses grupos intensificaram sua propaganda antissemita.
O rapaz tímido ainda estava para descobrir seus dons extraordinários de oratória, mas a Revolucão Alemã, que derrubou o kaiser e instaurou uma república parlamentarista de inspiração esquerdista, provocou em Hitler tal comoção que o convenceu a abdicar de suas ambições artísticas e entrar na política. Junte-se a esse político aspirante com patronos influentes no meio militar a reação das elites econômicas ao novo governo, a fobia contra a esquerda e o ressentimento contra os judeus, e temos montado o cenário para a ascensão de Hitler e do nazismo. O Hitler pós-guerra se reinventou completamente, para prejuízo de milhões de vítimas que ele viria a fazer em sua ascensão sanguinolenta ao poder. Uma ascensão que, como Ullrich defende, merece ser mais bem compreendida.
Revista Aventuras na História