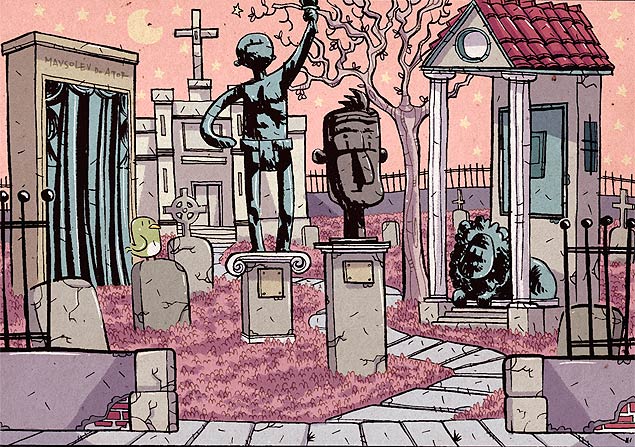Quem foi Herodes, rei brilhante e cruel
Tom Mueller Fonte:
NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL
Michael Melford 
Erguido por Herodes, o palácio em três níveis desce pela encosta norte de Masada - a realização de um soberano há muito vilipendiado, mas hoje reconhecido como um arquiteto magistral. Com técnicas de construção romanas, ele criou obras-primas de assombrosa beleza
Quase 13 quilômetros ao sul de Jerusalém, onde as últimas oliveiras mirradas começam a se confundir com as extensões áridas do deserto da Judéia, ergue-se um morro, um cone íngreme de topo plano, parecido com um pequeno vulcão. Ali fica o Herodium, um dos grandiosos empreendimentos arquitetônicos de Herodes, o Grande, rei da Judéia que transformou uma pequena colina em um imponente monumento de cantaria alvacenta e o circundou de palácios recreativos, enormes piscinas e jardins em terraços. Governante astuto e generoso, general brilhante e um dos mais imaginativos construtores do mundo antigo, Herodes elevou seu reino a um patamar de prosperidade e poderio até então jamais visto. Contudo, ele ainda é mais conhecido como o dissimulado e homicida monarca do Evangelho segundo Mateus, o homem que mandou massacrar todos os meninos de até 2 anos que viviam em Belém, em uma fracassada tentativa de eliminar o recém-nascido Jesus, que, de acordo com a profecia, estava destinado a ser o rei dos judeus. No decorrer da Idade Média, Herodes tornou-se a própria figura do anticristo: em manuscritos iluminados e gárgulas góticas, ele é retratado arrancando a própria barba em fúria e brandindo a espada contra as crianças enquanto o demônio lhe sussurra ao ouvido. Mas é quase certo que Herodes é inocente desse crime, mencionado apenas no relato de Mateus. Isso não o isenta da morte de outras crianças, entre as quais três de seus filhos, assim como de sua mulher, de sua sogra e de vários outros membros da corte. Toda a sua existência foi marcada por uma mescla de criatividade com crueldade, de harmonia com caos de uma forma que extrapola os limites de nossa imaginação moderna.
O arqueólogo israelense Ehud Netzer passou as últimas cinco décadas empenhado na descoberta do verdadeiro Herodes, não em palavras, mas em blocos de pedra. Netzer escavou muitos dos principais locais construídos por Herodes na Terra Santa, explorando os palácios habitados pelo soberano, as fortalezas em que combateu, as paisagens nas quais se sentia mais à vontade. Dentre as inúmeras obras realizadas por Herodes, o Herodium é a única que faz referência a seu nome. Foi ali, no término de uma carreira audaciosa e sanguinolenta, que seu corpo foi colocado em um majestoso mausoléu.
O local exato do túmulo de Herodes permanecera um mistério durante quase dois milênios, até que, em abril de 2007, Netzer e seus colegas da Universidade Hebraica de Jerusalém o encontraram, na encosta superior do Herodium. Essa descoberta lança novas luzes sobre uma das personalidades mais intrigantes do mundo antigo, e revela indícios do ódio que Herodes despertava entre seus contemporâneos. Também provocou um incidente político: os palestinos argumentaram que os artefatos recuperados no sítio arqueológico lhes pertenciam por direito, enquanto os colonos judeus afirmaram que a presença do túmulo confirmava as reivindicações judaicas pelo território da Cisjordânia. Para Netzer, cujas escavações de vários sítios associados a Herodes já foram interrompidas por guerras, invasões e revoltas, a controvérsia não tem nada de novo. Na Terra Santa, a arqueologia é um tema tão político quanto a própria soberania.
Herodes nasceu no ano de 73 a.c. e foi criado na Judéia, um reino situado no âmago da antiga Palestina e que na época estava convulsionado por conflitos civis e dilacerado entre inimigos poderosos. A dinastia dos macabeus, que haviam governado a Judéia por 70 anos, estava dividida por feroz disputa pelo trono entre dois príncipes irmãos, Hircano II e Aristóbolo II. O reino, por sua vez, estava no centro de um conflito geopolítico mais amplo, entre as legiões romanas a norte e a oeste, e os partos, inimigos de Roma, a leste. O pai de Herodes, principal conselheiro de Hircano e general talentoso, acabou alinhando-se aos romanos, que expulsaram Aristóbolo e fizeram de Hircano o soberano da Judéia.
Desde pequeno, Herodes pôde comprovar os benefícios de uma boa convivência com os romanos - posição que sempre foi considerada uma traição do povo judeu - e foram esses poderosos aliados que acabariam por colocá-lo no trono. Durante toda a sua trajetória, ele tentou reconciliar as demandas romanas com as de seus súditos judeus, que zelavam por sua independência política e religiosa. A manutenção desse frágil equilíbrio tornara-se tarefa ainda mais difícil em função da história familiar de Herodes: a mãe dele era de uma etnia árabe, e o pai, um edomita. Embora tenha sido criado como judeu, Herodes estava longe de partilhar o prestígio social das poderosas e antigas famílias de Jerusalém, dignas de fornecer os sumo-sacerdotes, como havia sido o caso dos soberanos macabeus. Muitos de seus súditos consideravam Herodes um forasteiro - um "semijudeu", como diria mais tarde seu primeiro biógrafo, o soldado e aristocrata judeu Flávio Josefo - e continuaram a lutar por uma teocracia macabéia. Em 43 a.C., o pai de Herodes morreu envenenado por um agente macabeu. Três anos depois, quando os partos invadiram a Judéia, uma facção macabéia rival aliou-se aos invasores, depôs e mutilou Hircano e voltou-se contra Herodes.
Naquele momento de crise, Herodes buscou a ajuda dos romanos. Escapou de Jerusalém com a família e, após derrotar os partos e seus aliados judeus em uma batalha no local em que mais tarde ergueria o Herodium, ele viajou até Roma, onde o Senado, reconhecendo sua inabalável lealdade, o nomeou rei da Judéia. Herodes deixou o edifício do Senado de braços dados com dois dos homens mais poderosos do mundo romano: Marco Antônio, o soldado e orador que governava a parte oriental do Império Romano, e Otaviano, o jovem que comandava a região ocidental - e que, nove anos mais tarde, derrotaria Marco Antônio e ficaria à frente de todos os domínios romanos, adotando em seguida o título imperial de "Augusto". Depois, em um ato que simbolizava os inúmeros compromissos que teria para se manter no poder, Herodes liderou a procissão até o alto do monte Capitolino, onde ficava o Templo de Júpiter, o santuário mais sagrado dos romanos, e ali o rei da Judéia ofereceu um sacrifício às divindades pagãs de Roma.
Herodes agora tinha seu reino, mas ainda lhe faltava conquistá-lo, e isso exigiu três anos de duros combates. Por fim, em 37 a.C., ele conseguiu dominar Jerusalém e, pelo menos politicamente, tinha a seus pés toda a Judéia. Para reforçar sua autoridade social e religiosa, ele divorciou-se da primeira esposa, Doris, e casou-se com Mariamne, uma princesa macabéia. Mas isso não eliminou a ameaça dos macabeus. Dois anos depois, durante o festival religioso de Sukkot, o irmão adolescente de Mariamne, e sumo-sacerdote do Segundo Templo, foi alvo de uma calorosa manifestação de apoio por parte da multidão de devotos. Temeroso de que o jovem viesse a usurpar o trono, Herodes arranjou para que o afogassem em uma piscina de seu palácio em Jericó.
Os macabeus não eram o seu único motivo de preocupação. Entre os anos de 42 e 31 a.C., enquanto Marco Antônio governava a porção oriental do império, Herodes sempre se mostrou amigo e aliado confiável. E isso a despeito das ambições de Cleópatra, a bela rainha egípcia que se casara com Marco Antônio e convencera o apaixonado marido a lhe transferir partes seletas do reino de Herodes, a quem ela tentou até mesmo seduzir - ele preferiu esquivar-se a essas investidas amorosas. Em 31 a.C., a paisagem política sofreu uma reviravolta com a Batalha de Ácio, na qual Otaviano derrotou os exércitos de Marco Antônio e Cleópatra, tornando-se o primeiro imperador de Roma. Consciente de que Otaviano não veria com bons olhos a longa amizade com Marco Antônio, Herodes correu para a ilha de Rodes a fim de encontrar-se com o novo imperador e apresentou-se a ele sem a coroa, mas com toda a sua dignidade régia. Em vez de minimizar sua devoção a Marco Antônio, Herodes preferiu ressaltá-la, prometendo servir a seu novo senhor com a mesma fidelidade. Otaviano ficou de tal modo impressionado com a postura de Herodes que acabou por confirmá-lo como soberano da Judéia, e depois ainda acrescentou outros territórios a seus domínios, comentando que a megalopsychia de Herodes - a sua grandeza de espírito - mal se adaptava a um reino tão pequeno quanto a Judéia.
Nas duas décadas de prosperidade econômica e de relativa paz que se seguiram, Herodes fez de sua corte um centro de cultura helenística e romana, reunindo a seu redor alguns dos principais estudiosos, poetas, escultores, pintores e arquitetos tanto do Ocidente como do Oriente. Ele era generoso para com seus súditos em épocas de fome e desastres naturais, e também ao beneficiar regiões fora de seus domínios, como a Grécia e a Ásia Menor. (Os cidadãos de Olímpia ficaram tão gratos pelas abundantes doações de Herodes que o elegeram agonothete, "presidente", dos Jogos Olímpicos.) E empenhou-se em um programa de obras civis de extraordinária dimensão e criatividade. Como o litoral norte da Judéia não contava com as condições naturais para receber embarcações de grande calado, ele ordenou que se construísse ali um porto de águas profundas, lançando mão de inovadora técnica para erguer um quebra-mar com blocos maciços de concreto hidráulico. Em Masada, o palácio setentrional de Herodes despenca por um penhasco em três plataformas estreitas, criando uma residência aérea e luminosa e também uma fortaleza inexpugnável. Na reconstrução do Segundo Templo, Herodes usou nos alicerces blocos de pedra com mais de 12 metros de comprimento e 600 toneladas. O que resta hoje dessa obra monumental, o Muro das Lamentações, é o local mais sagrado do judaísmo. E, sobre ele, foi erguido o terceiro lugar mais venerado pelos muçulmanos, o Domo da Rocha.
A magnificência e a prosperidade do reinado de Herodes ocultavam, porém, a turbulência de sua existência privada. Como muitos soberanos helenísticos da época, ele tinha uma família numerosa- dez esposas e mais de uma dúzia de filhos - e atrabiliária, cujas freqüentes conspirações estimulavam sua crueldade e paranóia. Em 29 a.C., durante um surto de ciúme manipulado por sua irmã Salomé, Herodes mandou executar sua esposa Mariamne, embora ainda a amasse profundamente, e mergulhou nos meses seguintes na mais negra depressão, repetindo o nome dela como se quisesse chamá-la de volta da terra dos mortos. Nos últimos anos de sua vida enviou ao exílio três de seus filhos por causa de supostas conspirações para derrubá-lo. E refez seu testamento nada menos que seis vezes. Em sua derradeira enfermidade, Herodes concebeu um esquema para que todo o reino mergulhasse no luto quando partisse deste mundo, ordenando a suas tropas que detivessem no hipódromo de Jericó os mais eminentes cidadãos da Judéia e os massacrassem no momento em que fosse anunciada a sua morte. (Felizmente para esses indivíduos abastados, a ordem não foi cumprida.)
A doença terminal de Herodes, tal como toda a sua trajetória, fugiu aos padrões normais - pelo menos segundo Flávio Josefo, que relaciona com mal contido regozijo os sintomas que afligiram o soberano: dores internas e sensações de ardor, inchaço nos pés, convulsões, apetite desenfreado, úlcera no cólon, órgãos genitais putrefatos e tomados por vermes e um mau hálito medonho. Gerações de estudiosos exercitaram a imaginação na tentativa de identificar a moléstia que deu cabo de Herodes, propondo vários diagnósticos, entre os quais sífilis, diabetes com cirrose do fígado e uma enfermidade renal complicada por gangrena de Fournier. Todavia, em última análise, o que mais afligiu Herodes pode ter sido um biógrafo hostil. Na verdade, os sintomas mencionados por Josefo faziam parte de um repertório de moléstias venéreas e humilhantes, em geral consideradas sinais da ira divina, que durante séculos foi usado por historiadores gregos e romanos para vilipendiar governantes maléficos. No entanto, o relato que Josefo fez do cortejo no funeral de Herodes sugere o respeito, e até mesmo devoção, que os súditos ainda sentiam por ele. Em Jericó, onde Herodes morreu, em 4 a.C., seu corpo foi colocado em um ataúde dourado, ornado de pedras preciosas e envolto em púrpura régia, com um cetro na mão direita e uma coroa de ouro na cabeça. Os numerosos familiares alinharam-se em torno do esquife, ao lado das tropas, envergando o uniforme completo de combate, e dos 500 criados e escravos libertos que carregavam especiarias. Todos juntos acompanharam o corpo de Herodes por 40 longos e escaldantes quilômetros, na direção sudoeste, até um morro cônico na borda do deserto. E ali o depuseram para seu descanso eterno.
Dois milênios mais tarde, visitei o Herodium com Ehud Netzer, em uma gélida e ventosa manhã de fevereiro. Com 74 anos, Netzer é um homem atarracado e forte. Estacionamos ao pé da colina, próximo a um vilarejo de casas de blocos de concreto, habitadas pelos beduínos da etnia taamra, onde uma placa de 2 metros declara que, por lei, a entrada ali está proibida aos cidadãos israelenses. "Eu costumava comer e tomar chá por aqui, nas casas dessa gente", comenta Netzer. "As crianças do vilarejo iam brincar nas escavações. Mas aí veio a primeira intifada [revolta], a de 1987, e tudo isso acabou."
O trabalho de Netzer no Herodium, assim como sua vida, foi marcado pelos acontecimentos políticos, pela violência e pelas guerras. Criado em Jerusalém, a casa de sua família foi bombardeada pela forças árabes quando tomaram a parte oriental da cidade, em 1948, pouco antes da fundação do Estado de Israel. Arquiteto de formação, Netzer começou a participar de escavações arqueológicas nas férias de verão na década de 50. Ele continuou a praticar ambas as atividades, garantindo as escavações graças ao talento empresarial que aperfeiçoara como arquiteto, ao levantar parte dos recursos financeiros, empregar estagiários e transportar pessoal e equipamentos para os sítios na própria van.
Seu primeiro encontro com Herodes ocorreu em 1963, quando iniciou um período de três anos como arquiteto da equipe encarregada da histórica escavação de Masada, o complexo fortificado erguido por Herodes no topo plano de um morro que dá para o mar Morto. Em 1967, quando a Guerra dos Seis Dias e a subseqüente ocupação da Cisjordânia tornaram acessíveis aos arqueólogos israelenses vários sítios associados a Herodes, Netzer começou a explorar dois dos mais promissores, em Jericó e no Herodium, e depois escavou vários outros. "Topei com tantos projetos e soluções arquitetônicos inusitados que aos poucos cheguei à conclusão de que havia uma única inteligência por trás de todos - que Herodes tinha um profundo entendimento de arquitetura e urbanismo, e desempenhou papel ativo na realização de muitas dessas obras."
Netzer me conduz pela trilha de cascalho até o local das escavações. Em seguida, durante várias horas serpenteamos e subimos a encosta do morro, passando por bodes que pastavam entre touceiras de cardos e pequenos arbustos de malva - enquanto ruínas maciças lembravam o paraíso que Herodes havia erguido na borda do deserto, como uma miragem concretizada.
O Herodium compõe-se de dois setores principais: a cidade-jardim do Herodium Inferior, aos pés da colina e nas encostas mais baixas - ao ser construída, provavelmente era o maior complexo de mansões em todo o mundo romano -, e o imponente palácio fortificado do Herodium Superior, no topo do morro, cuja maciça Torre Oriental de cinco andares, há muito arruinada, antes dominava o horizonte. "Este é um sítio complicado, pois se encontra em terreno íngreme, disposto em vários níveis, e apresenta abundância de material", conta Netzer quando começamos a subir a encosta para o Palácio Inferior. "É um imenso enigma em quatro dimensões, porque o tempo também é relevante aqui."
Não muito longe de onde havíamos estacionado, Netzer me mostra o Grande Lago, onde começou as escavações em 1972: um tanque retangular de alvenaria, circundado por graciosa colunata branca, que antes era uma piscina para natação quase tão grande quanto um campo de futebol. No decorrer dos anos, aos poucos ele foi reunindo outras peças do quebra-cabeça do Herodium, experimentando e descartando hipóteses sobre a identidade de cada estrutura até que se encaixassem no contexto geral do sítio. Nas encostas mais baixas caminhamos por um patamar, com cerca de 30 metros de largura e quase 3,7 mil metros de comprimento, que fora escavado na encosta. "No início pensamos que fosse um hipódromo", comenta Netzer quando chegamos à plataforma. "Mas depois concluímos que era estreito demais para as curvas das carruagens. Por isso achamos que se tratava de uma área de desfiles cerimoniais, e que foi por ali que passaram as tropas de Herodes em seu funeral."
A formação de Netzer como arquiteto lhe permitiu reconhecer, em fotos aéreas, os exatos eixos de simetria que vinculavam os edifícios nas porções inferior e superior do Herodium. Um desses eixos estende-se na direção norte-sul através do centro da fortaleza no cume do morro e também do Palácio Inferior na encosta mais embaixo. Outro, fazendo um ângulo de cerca de 30 graus em relação ao primeiro, seccionava tanto a Torre Oriental como o Grande Lago. Isso significa que o Herodium foi construído de acordo com um plano geral e abrangente - na opinião de Netzer, concebido pelo próprio rei. "É bem possível que fosse a representação de uma cidade ideal, imaginada por Herodes", diz ele. "Com seu ordenamento, seus edifícios palacianos, colunatas e água corrente, criou uma atmosfera de paz e tranqüilidade que provavelmente lhe fazia falta em outras partes." E toda essa beleza foi gerada por um indivíduo que matou sua mulher e seus filhos, torturou membros de sua corte e passou longos meses balbuciando coisas desconexas, tomado de loucura.
Em 1972, ao começar a escavar o Herodium, Netzer não estava especialmente interessado em achar o verdadeiro local em que Herodes fora sepultado. Mas, com o passar do tempo, isso acabou se tornando uma obsessão. "Nós quebramos a cabeça com a questão do túmulo", diz Netzer sorrindo, empregando uma expressão corriqueira em hebraico. No início de 2006, em seguida à segunda intifada, ele tentou nova abordagem. "Disse a mim mesmo: há anos estamos escavando no Herodium Inferior, sem encontrar o túmulo. Talvez seja melhor tentar num trecho mais alto do morro." Foi aí que escolheu um ponto elevado na encosta, não muito longe da Torre Oriental, onde a intuição lhe disse que a irregularidade em uma muralha talvez fosse o sinal da presença de uma estrutura subjacente.
Netzer e eu alcançamos o local quando a voz de um muezim soa no minarete do vilarejo mais embaixo, conclamando os fiéis às orações. Uma plataforma fora aberta na vertente, expondo um muro de 9 metros, composto de blocos de calcário bem cortados e reluzentes. Yaakov Kalman e Roi Porath, da equipe de escavação, haviam acabado de interromper o trabalho com outros cavadores para fazer uma refeição de azeitonas, castanhas, cebolinhas-brancas, pasta de grão-de-bico e tâmaras polpudas e adocidadas. No outono de 2007, meses antes de iniciar os trabalhos no novo sítio, a equipe de Netzer começou a encontrar belos fragmentos de um refinado objeto talhado em calcário duro e rosado, um dos quais trazia uma roseta ornamental típica da arte funerária. Por e-mail, Porath enviou fotos a Netzer, que não estava no sítio na ocasião, com uma questão candente: "Um sarcófago?"
Então, em 27 de abril de 2007, a lâmina do enxadão de Porath ressoou, indicando que topara com algo maciço e duro. Pouco a pouco ele expôs à luz três blocos maciços de calcário branco conhecidos como meleke, um termo em árabe que significa "régio". "Pela qualidade da pedra, a alvenaria requintada e a abundância de ornamentos, logo vi que se tratava de um achado importante, parte de uma estrutura enorme e majestosa", conta Porath. Ele então ligou para Netzer, que estava no carro com sua mulher, Dvorah. "Ehud ficou muito calmo durante a conversa", lembra-se ela. "Perguntou a Roi sobre detalhes da cantaria e concordou que era diferente de tudo o que já haviam encontrado no Herodium." Ele desligou, ergueu as mãos no ar e gritou "Yesh!" Essa é uma expressão só usada por jovens - "Ehud jamais fala desse jeito! Eu nunca o vi tão feliz assim."
Netzer e seus colegas acreditam que o monumento se erguia a 24 metros de altura, com um primeiro andar em forma de cubo, um segundo andar cilíndrico e um imenso e afunilado teto, tão pontudo quanto a torre de uma igreja. Pedaços de dois outros sarcófagos, elegantemente entalhados mas feitos de pedra menos nobre, foram em seguida achados nas proximidades, assim como alguns ossos humanos. A essa altura, restavam poucas dúvidas de que o túmulo de Herodes havia sido encontrado.
O estado dos fragmentos dos sarcófagos comprova que eles foram deliberadamente destruídos. Aquele feito de calcário rosado foi alvo de fúria selvagem, tendo sido despedaçado em centenas de fragmentos. Essa destruição ocorreu cerca de 70 anos após a morte de Herodes, quando combatentes judeus ocuparam o Herodium durante duas breves e fracassadas rebeliões, conhecidas como a Primeira e a Segunda Revolta Judaica, contra as legiões romanas. "Eles consideravam Herodes um colaboracionista dos romanos, um traidor da fé e da independência política dos judeus", explica Netzer. "Não estavam apenas saqueando. Era uma forma de vingança."
Durante duas longas semanas, Netzer e sua equipe conseguiram manter segredo sobre a rara descoberta:"Queria ter bem estabelecidos todos os fatos antes de fazer a divulgação, pois imaginava que o túmulo iria despertar muito interesse." Ele tinha razão. A entrevista coletiva que deu em 8 de maio foi de imediato a causa de um incidente político. Shaul Goldstein, um dos líderes dos assentamentos de Gush Etzion, ao sul de Jerusalém, afirmou na rádio do Exército israelense que o túmulo constituía "outra prova de uma conexão entre Gush Etzion e o povo judeu e Jerusalém", e pediu que fosse transformado em local de interesse nacional e religioso.
Por outro lado, a Autoridade Palestina, temerosa de que a sepultura reforçasse as reivindicações judaicas sobre a área, questionou a conclusão de que se tratava do túmulo de Herodes, e protestou por Netzer ter levado ao território israelense artefatos retirados do local - que fica na Cisjordânia e supostamente encontra-se sob controle palestino. "Trata-se de furto de artefatos palestinos", comentou Nabil Khatib, o responsável pelo distrito de Belém na Autoridade Palestina, ao jornal americano Washington Post.
Para complicar ainda mais a situação, o local recebeu a visita de membros de um grupo ultra-ortodoxo, o Atra Kadish, empenhado na proteção das sepulturas judaicas contra atividades de arqueólogos e de construtores de estradas. Eles insistiram para que a equipe de Netzer reenterrasse os ossos e os cobrisse com uma laje de concreto. Alguém familiarizado com as escavações no Herodium, que pediu para não ser identificado, conta-me que, ainda que as relações com o Atra Kadish tenham sido sempre cordiais, continua em vigor a ameaça implícita de que podem interromper à força os trabalhos, por implicarem na profanação de uma sepultura judaica: "Basta tomarem alguns ônibus, seguirem até lá e fecharem o sítio". Dois mil anos depois de sua morte, Herodes ainda é uma poderosa força política.
No fim da tarde, Netzer e eu alcançamos a fortaleza no topo do Herodium, com seu anel de muralhas derruídas formando uma cratera que acentuava a aparência vulcânica do morro. O céu ficara limpo e o mundo havia adquirido uma extraordinária nitidez sob o distante Sol do deserto. Logo abaixo de nós um falcão-peregrino voa, disparando como uma flecha através dos campos estéreis, enquanto mais ao longe três caças F-16 voam sobre a mancha azulada e nebulosa do mar Morto. No vilarejo beduíno em que havíamos parado o carro, crianças brincam em volta de um tanque de água e duas caminhonetes brancas percorrem as ruas, com alto-falantes clamando à oração em árabe, os motoristas vendendo banana e comprando ferro-velho. No topo de montes a sul e a oeste vêem-se os assentamentos israelenses de Tekoa, Kfar Eldar e Nokdim, os telhados vermelhos e os jardins dispostos em ovais simétricos e defensivos, em nítido contraste com a mancha urbana de metal corrugado dos vilarejos beduínos, cujos minaretes se erguem de todas as colinas ao redor. A leste e a sul fica o deserto: os inóspitos morros da Judéia e os agrestes e avermelhados montes de Moab, do outro lado da fronteira, já na Jordânia. Aqui, no âmago do feroz caos da natureza, Herodes decidiu construir a cidade que levaria seu nome, e abrigaria sua sepultura.
"Tenho certeza de que em alguns momentos Herodes botou a cabeça nas mãos e desabafou: 'Como fui idiota de dizer que queria ser enterrado aqui!'", conta Netzer. "Mas ele era um administrador eficiente, sempre com os pés no chão. Ele fez do Herodium não só um lugar belíssimo mas também uma comunidade perfeitamente organizada - uma cidade que funcionava."
O sonho de Herodes não durou muito após sua morte. Ela também marcou o início do fim da prosperidade na Judéia. Seus descendentes dilapidaram a imensa fortuna por ele acumulada e malbarataram a harmonia religiosa e política que tanto promovera. Após dez anos de domínio incompetente do filho de Herodes, os impacientes romanos nomearam um procurador para governar a Judéia (no início da década de 30 d.C., o posto foi ocupado por Pôncio Pilatos). Muitos judeus agora passaram a ver os romanos como opressores e infiéis. Durante a Primeira Revolta Judaica, no fim da década de 60 d.C., os rebeldes resistiram às legiões romanas em ambas as fortalezas erguidas por Herodes no cume de morros, Herodium e Masada. Na primeira vandalizaram o túmulo de Herodes e reformaram o palácio no topo: transformaram seu triclínio, a luxuosa sala de jantar, em uma sinagoga, e instalaram duas banheiras rituais, mikves, no pátio interno. Os combatentes acabaram por se render. Em Masada, porém, lutaram até o fim. Quando a derrota era inevitável, eles preferiram, reza a lenda, cometer suicídio coletivo para não se tornarem prisioneiros e cativos dos romanos. Na Segunda Revolta Judaica, ocorrida na década de 130, escavaram no morro um sistema de túneis que era usado em ataques de surpresa contra os romanos, e que ainda hoje pode ser visitado.
Tal como o templo de Herodes em Jerusalém, Herodium e Masada continuam sendo marcos para os israelenses atuais. Seus guerreiros simbolizam um idealismo religioso e uma coragem indômita diante de forasteiros que, para muitos israelenses, têm profunda ressonância com a atual posição de seu país no contexto do Oriente Médio. No feriado de Tishá Be'Av, quando os judeus lamentam a destruição do Primeiro e do Segundo Templo, alguns deles começam suas devoções no cume do morro do Herodium, em vez de em Jerusalém. Em Masada, fazem vigílias à luz de velas e celebram bar mitzvahs e ali os oficiais militares são incorporados às fileiras do Exército israelense, repetindo a frase: "Masada jamais voltará a cair!"
No entanto, diz Netzer, cada vez mais os israelenses vêem a coragem suicida dos defensores de Masada como fanatismo desprovido de sentido. "Muita gente acha que eles deveriam ter negociado com os romanos, em vez de resistir." Talvez o comprometimento de Herodes com os romanos, por tanto tempo considerado uma traição, esteja agora começando a ser visto mais como a hábil manobra diplomática de um estadista. Mas as questões levantadas por sua vida - relativas a autonomia e colaboracionismo, pureza religiosa e ecletismo cultural, criatividade e poder - até hoje continuam candentes e vitais.
National Geographic Brasil








.jpg)