Antes da ascensão do islamismo, credos politeístas encontraram na Península Arábica um local para continuar existindo, preservadas das grandes religiões que acreditavam em um deus único, como o cristianismo triunfante
Álvaro Oppermann | Ilustração Daniel Rosini Por volta do século 5, os habitantes da região do Mediterrâneo tinham se convertido ao cristianismo. O panteão de deuses da Grécia e de Roma era só lembrança do passado. E, pelo jeito, os velhos deuses estavam mesmo na hora de se aposentar. O historiador Plutarco, sacerdote do templo de Delfos, lamentava-se, no século 2, que Apolo se calara: não respondia mais às consultas oraculares feitas por ele. Até os cultos de deuses "importados", como o da egípcia Ísis e do persa Mitra, estavam em baixa. Em 394, um pequeno grupo de devotos de Ísis fez a última procissão em homenagem à deusa pelas ruas de Roma.

As religiões pagãs tinham sido varridas do mapa? Não. No século V, na Península Arábica, os deuses greco-romanos sobreviviam. Em Failaka (no atual Kuwait), festivais populares eram organizados em devoção ao deus Poseidon (o Netuno dos romanos) e à deusa Artemis (Diana). A deusa Minerva (Al-Lat) tinha adoradores na Arábia, na Síria e na Palestina. "Até o século 4, quase todos os habitantes da Arábia eram politeístas", diz o professor de Oxford Robert G. Hoyland, autor de Arabia and the Arabs - From the Bronze Age to the Coming of Islam ("Arábia e os Árabes - Da Era do Bronze à Vinda do Islã"). "Al-`Uzza (Afrodite) era cultuada no Sinai e na Arábia", diz James E. Montgomery, professor de História Árabe da Universidade de Cambridge, autor de Arabic Theology, Arabic Philosophy: From the Many to the One ("Teologia Árabe, Filosofia Árabe: do Múltiplo ao Uno").
Como aconteceu essa assimilação? Bem, não foi só da Grécia e de Roma que os árabes pegaram deuses emprestados. "Hoje se acredita que as divindades árabes eram formas locais, adaptadas, das divindades do mundo antigo do Mediterrâneo", registrou Timothy Winter, da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, no ciclo de palestras A Crash Course in Islamic History (Breve Curso de História Islâmica). Os árabes assimilaram os deuses dos povos vizinhos, adaptando-os à sua religião. A deusa Al-Lat, como vimos, era Minerva (nome romano da grega Atena) sob disfarce, mas nem tão disfarçada assim: em Cartago, a mesma deusa usava o nome de Allatu. "Muitas das divindades da Antiguidade ocidental poderiam ser facilmente intercambiáveis", diz a historiadora Mary Beard, autora de Religions of Rome ("Religiões de Roma"). No século 5 a.C., isso já tinha despertado a atenção de Heródoto. Em seu périplo por terras árabes, o historiador observou um pacto entre dois chefes tribais feito em nome de Dionísio (o Baco romano). "Os árabes chamam Dionísio de Orotal", escreveu Heródoto nas Histórias (430 a.C.).
Um caso ilustrativo é fornecido pelas observações do general romano Aelius Gallus. Em 26 a.C. ele foi enviado ao sul da Arábia para costurar acordos comerciais com os reinos da região (chamada de Arabia Felix, "feliz"). Os romanos cobiçavam o incenso e as especiarias. Gallus, em seu diário, não deixou de notar a semelhança entre os deuses locais e o panteão romano. "O nosso Júpiter aqui é Dhu'Shara", espantou-se.
Ídolos na caaba O panteão árabe era bem pobre em termos de causos mitológicos. A origem da religião, ou religiões, da Arábia pré-islâmica está envolta em um manto de obscuridade. "Nós praticamente não possuímos informações sobre os mitos e narrativas que decodificariam a religião da Arábia pré-islâmica", diz Hoyland. "Muitos autores greco-romanos escreveram tratados sobre a Arábia e as coisas dos árabes, mas infelizmente eles foram perdidos, ou deles só sobraram fragmentos." Os dados completos disponíveis são provenientes da historiografia islâmica, posterior. Tal como os primeiros autores cristãos (Eusébio de Cesareia, Santo Agostinho, Tertuliano), os muçulmanos viram o passado pagão - romano ou árabe - sob o prisma da religião nascente. Reza a lenda (exposta no Livro do Gênesis, na Bíblia), que os árabes descenderiam de Ismael, o filho de Abraão com a concubina Hagar, a serva egípcia de sua esposa, Sara. Quando Sara deu à luz Isaac, obrigou o marido a expulsar a serva e o primogênito. Hagar e o menino erraram pelo deserto, até chegarem ao árido vale de Meca, onde se estabeleceram.
A religião original da Arábia seria estritamente monoteísta, baseada na crença no Deus Uno, ensinada por Abraão a Ismael. Segundo a história islâmica, a Caaba - "A Casa de Deus", prédio de forma cúbica no coração de Meca - teria sido construída por Abraão e Ismael. Na obra O Livro dos Ídolos, do século 9, que trata do politeísmo árabe, é dito que o primeiro descendente de Ismael a adulterar a religião de Abraão foi um certo Al-Harith, guardião da Caaba. Ele retornou a Meca com um ídolo de pedra e pediu sua intercessão junto a Deus. Com o tempo, a presença de Deus tornou-se tênue no imaginário local, e os ídolos, que antes serviam de ponte entre os homens e Deus, usurparam a posição divina. Viraram deuses, no plural. No século 3, segundo Al-Azraqi, autor das Crônicas da Meca Gloriosa, 400 ídolos de pedra haviam sido erigidos ao redor da Caaba, homenagem aos mais diversos deuses da Arábia e dos povos vizinhos. Essa é a versão dos historiadores muçulmanos, que enfatizaram, em suas narrativas, um monoteísmo mítico em Meca. Os vestígios arqueológicos, no resto da Arábia, apontam à anterioridade das religiões politeístas na região.
Ascensão do Islã Graças à Caaba, Meca teve, antes do Islã, importância na vida religiosa árabe. Era uma espécie de Aparecida, que atraía romeiros à cidade. Os líderes de Meca davam boas-vindas a todas as divindades e religiões. A cidade funcionava como uma espécie de ONU multicultural do paganismo antigo. Cada tribo tinha o seu próprio santuário ali. Ao contrário da imponente estatuária romana, os ídolos árabes eram bem modestos. A estátua de Al-Lat em seu templo oficial, em Ta'if, era fruto da reforma de uma panela de pedra, utilizada por um judeu para cozinhar mingau. "Muitas vezes, os ídolos eram somente uma pedra polida", diz Ibn Al-Kalbi.
A vida religiosa não estava restrita a Meca. Cada cidade tinha seu deus. Em Hegra, no norte, os habitantes diziam-se "filhos de Manat", que os gregos chamavam de Tyché - a Fortuna dos romanos. Em Mleiha, nos atuais Emirados Árabes, o deus popular era Kahl. Em Palmira, na Síria, o culto era à deusa Bel. Os templos religiosos pré-islâmicos não diferiam, em sua arquitetura simples, da casa de um árabe afluente da época, em cuja sala de estar erigia-se um pequeno altar dedicado ao deus, ou deuses, da predileção do proprietário. Leite, vinho, cereais, carne de camelo e de ovelha eram depositados diante do altar. Junto à Caaba, em Meca, costumava-se sacrificar camelos. "Os árabes possuíam deidades auxiliares, chamadas mundhat, que cuidavam da proteção dos vilarejos, das casas e até das pessoas individualmente", diz Hoyland. Esses entes sobrenaturais não seriam muito diferentes do que hoje se chamam "anjos".
Na época do surgimento do Islã, no século 7, há indícios de declínio econômico na Península Arábica. O comércio de incenso, vindo do Iêmen, sofreu um baque com a concorrência marítima dos romanos, pelo Mar Vermelho, estabelecida após a missão do general Gallus (que foi na verdade uma rasteira nos mercadores árabes). Um segundo golpe, ainda mais duro, foi sentido com a ascensão do cristianismo, que praticamente aboliu, no Mediterrâneo, o uso religioso do produto, associado ao paganismo. Na época de Mao-mé, o sul da Arábia era uma pálida imagem do passado. Meca tinha uma economia pequena.
O advento do Islã representou o fim do paganismo. Na história do apostolado de Maomé (por volta de 609 a 632 d.C.), os senhores políticos de Meca tentaram dissuadi-lo de sua missão religiosa. Em 622, em reunião na Câmara do Conselho da cidade, chefes de diversos clãs decidiram assassiná-lo. Para sacramentar a decisão, fizeram um banquete, sacrificando animais num altar a Al-`Uzza. O atentado falhou, motivando a Hégira, o êxodo de Maomé a Medina, que marca o início do calendário islâmico.
Em 630, o exército comandado pelo Profeta conquistou Meca. Os ídolos em volta da Caaba foram queimados. Maomé enviou missões militares para demolir os principais templos da península, como o de Al-`Uzza em Nakhla. Lá, o general Khalid bin Walid, um brilhante estrategista militar, conhecido como a "Espada do Islã", não se contentou em destruir o templo. Segundo Waqidi, cronista das campanhas militares dos primórdios do Islã, Khalid viu surgir dos escombros uma mulher nua. Os fios da sua cabeleira, de tão longos, iam quase até o chão. Ela fitou o general, impávida, imóvel, majestosa. Khalid diz ter sentido um calafrio à sua visão. Era a sacerdotisa de Al-`Uzza. "Nós negamos a ti, e não à veneração!", gritou ele. A cavalo, avançou em disparada contra ela, sacou a espada e a decapitou. Era o fim dramático da última representante de Afrodite na Arábia. Nem os deuses duram para sempre.
Divino trio Na história da Arábia pré-islâmica, três deusas estiveram no centro da devoção popular: Manat, Al-Lat e Al-`Uzza. Segundo o antigo historiador Ibn Al-Kalbi, elas seriam as divindades mais antigas da região. Manat representava a sábia anciã, e seria uma adaptação da deusa grega Tyché (Fortuna para os romanos). Al-Lat, figura materna, uma versão local de Atena (Minerva em Roma). E Al-`Uzza, a adolescente, um sincretismo com a deusa Afrodite (Vênus).
Depois da Caaba, os templos de Al-`Uzza, no Vale de Nakhla (um dia de viagem de camelo ao sul de Meca), e de Al-Lat, em Ta'if, eram os mais visitados. Ta'if, cercada por muralhas, era localizada numa região verdejante e de clima ameno do Hijaz, região centro-oeste da Arábia, próxima ao Mar Vermelho. A cidade era conhecida como "Jardim do Hijaz", e a deusa, a "Dama de Ta'if". (Os árabes gostavam de uma alcunha; esta, aliás, uma palavra de origem árabe: Al-qunya).
Os pastores e camponeses da Arábia faziam preces a Al-Lat para aumentar a fertilidade dos rebanhos. Manat era a deusa da morte e do destino. Isso pode soar funesto, mas tinha um lado positivo: quando uma mudança surpreendente acontecia na vida de um árabe - o paciente desenganado que se recuperava de uma doença grave, ou o pobre que ficava rico por um golpe de sorte -, fazia-se uma oferenda a Manat, a senhora da roda da fortuna. Na Nabateia, os fraudadores de escrituras de tumbas funerárias (comércio escuso que, pelos registros, devia ser bem ativo) tinham de pagar multa - mil moedas de prata - ao templo de Manat em Petra, ao serem descobertos. O culto árabe mais fervoroso era o dedicado a Al-`Uzza, segundo testemunho de autores cristãos que pregaram na região. "Os sarracenos adoram a deusa Vênus e a associam à estrela da manhã", escreveu Santo Hilário, no século 4. ("Sarraceno", de acordo com uma etimologia, seria "aquele expulso por Sara": os árabes eram tidos como descendentes de Ismael, filho de Abraão com a serva egípcia Hagar). Em Meca, a poderosa tribo dos Quraish, principais oponentes de Maomé e do Islã, dizia-se "filha de Hubal e Al-`Uzza".
Deuses e monstros
Os deuses e criaturas sobrenaturais do panteão árabe
Dhu'Shara, o leão alado
Categoria: divindade Também chamado de Dusares, foi cultuado na Arábia e na Nabateia (atual Síria). Era o "Senhor de Petra", uma grande cidade de estilo romano, com ágora, banhos públicos e avenidas em colunata. Era identificado com Júpiter. Mas, ao que se saiba, não lançava raios. Seu poder mágico era o de se transformar em leão alado. Dhu'Shara era casado com Al-`Uzza (Vênus), virgem adolescente na mitologia árabe.
Nakruh, o senhor da destruição
Categoria: divindade "Deus da Morte", "Deus do Ódio", "Senhor da Destruição", "Vingador Implacável". Não, não são filmes antigos com Clint Eastwood, e sim algumas das alcunhas do deus árabe. Ele foi muitas vezes associado ao Saturno romano (e ao Cronos grego). Enfezado, tentou assassinar o próprio irmão, Wadd. Mas Nakruh tinha um lado bom e justo. Era o protetor das mulheres grávidas.
Ghila, a maligna
Categoria: animal fantástico A criatura teria surgido por causa de uma maldição de Dhu'Shara. Certa vez, um grupo de demônios femininos foi à mansão celeste para bisbilhotar. Como punição, foram arremessadas para a Terra. Algumas caíram nos rios, e viraram a fêmea do crocodilo. Outras, cuja parada foi o deserto, viraram ghilas.
Hubal, o deus da Lua
Categoria: divindade Deus da Lua, na religião de Moab, na atual Síria, foi adotado na Arábia, tornando-se uma de suas principais divindades. O seu primeiro vestígio na região - descoberto nos anos 1990 - é o de um altar e incensórios em Muweilah, nos Emirados Árabes, cuja data aproximada é de 800 a 700 a.C. Não há correspondência entre ele e os deuses greco-romanos. Segundo uma etimologia possível, seria uma corruptela de "Baal", deus semita.
Al-Qaum, o deus da guerra e das caravanas
Categoria: divindade Quando os mercadores árabes voltavam sãos e salvos de uma longa viagem, faziam oferendas ao deus. Conhecido como divindade da guerra, Al-Qaum era igualmente o protetor das caravanas. Também foi chamado de "Deus da Noite": os nabateus, que, assim como os árabes, o adoraram, transportavam cargas valiosas à noite, para não serem roubados. Faziam então uma reza ao deus.
Serpentes aladas
Categoria: animal fantástico A melhor descrição sobre estas criaturinhas peçonhentas voadoras foi de Heródoto, que ficou conhecendo sobre elas em suas andanças pela Arábia, no século V a.C. Estes ofídios com asas gostavam de fazer voos migratórios sazonais ao Egito. Mas lá eram repelidos pela íbis, ave que lembra a cegonha.
Orotal, o boa-praça
Categoria: divindade O Baco da Arábia. Assim como o deus romano, era chegado a um vinho. Aliás, na Arábia pré-islâmica, o costume de beber era arraigado. "O vinho era tido como um dos melhores presentes que a fortuna poderia agraciar ao árabe da era pré-islâmica", diz Toshihiko Izutsu, professor da Universidade de Keio, no Japão. Orotal foi popular na parte norte da Arábia. Não há referência arqueológica a ele no sul da península.
Al-Khutby, o sábio
Categoria: divindade O deus mais afeito ao conhecimento era Al-Khutby. Foi o deus da sabedoria, protetor dos estudiosos e escribas. Sua representação iconográfica era bem simples, um mero pilar. Na Arábia, sofreu sincretismo com o deus romano Mercúrio (Hermes na Grécia). Tinha asas nos pés, com o poder de percorrer grandes distâncias em pouco tempo. Nas tempestades, "surfava" pelas nuvens, conduzido pelos relâmpagos.
Gênios do bem e do mal
Categoria: ser sutil Os djinns (traduzidos por "gênios" em línguas ocidentais) eram criaturas feitas de ar, fumaça e fogo. "Um tipo particular de gênio era o qarîn, o 'djinn acompanhante'." Quando uma pessoa nascia, um qarîn nascia ao mesmo tempo. Os dois viveriam juntos e morreriam no mesmo dia. O gênio seria uma alma gêmea do ser humano.
Linha do tempo
2 500 a.C. a 1 750 a.C.
Escavações dão indícios de que, na fronteira da Arábia com a Mesopotâmia, vivia-se um período de prosperidade.
715 a.C.
Primeira referência pictórica à religião do Reino de Sabá: uma inscrição no templo do deus Almaqah. Os sabeus cultuavam essa divindade central.
430 a.C.
Relato de Heródoto sobre os árabes, na obra Histórias. Faz referência aos deuses árabes Orotal e Al-Lat.
50
Em Petra, cidade cosmopolita no norte da Arábia, há registros do culto à deusa Bel e à deusa egípcia Ísis.
219
O autor Al-Azraqi escreve a obra Crônicas da Meca Gloriosa. Retrato do culto politeísta em Meca. Na cidade, 400 estátuas de divindades foram erigidas em volta da Caaba.
609
Início da história do Islã, com a revelação dos primeiros versículos do Alcorão ao profeta Maomé.
622
Perseguição e tentativa de assassinato a Maomé leva à fuga do Profeta para Medina, a Hégira.
624
A Batalha de Badr marca o primeiro conflito armado entre os clãs politeístas de Meca e os adeptos do Islã.
630
Conquista de Meca pelo exército de Maomé. Destruição dos ídolos das divindades da religião politeísta árabe.
632
Morte de Maomé.
632 - 634
Repressão à idolatria pelo primeiro califa, Abu Bakr. Com a morte do Profeta, a região do Najd, no centro da Arábia, abandonou as práticas islâmicas e voltou à antiga religião.
Saiba mais
Livro
Arabia and the Arabs - From the Bronze Age to the Coming of Islam, Robert G. Hoyland, Routledge, 2001
Internet
O Livro dos Ídolos, de Ibn Al-Kalbi (em inglês)
Revista Aventuras na História 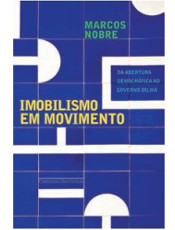
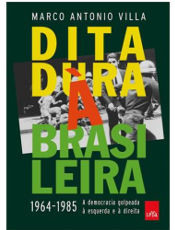
















 ]
]

