Nas primeiras décadas do século 19, durante as investigações do plano de uma grande rebelião escrava na Província de São Paulo, uma pintura encontrada em poder de um cativo deixou lívidos os senhores de engenho e as autoridades encarregadas de interrogar os insurgentes: a imagem representava um negro sendo coroado por um homem branco. A ousada figura, concebida pelo escravo pintor Manoel Rebolo, expressava um dos maiores temores senhoriais – a inversão completa da ordem social então vigente – e refletia a ardente esperança de alforria que alimentava o motim, até a sua descoberta e completa desarticulação. A insurreição sufocada de 1832 mobilizou centenas de cativos de nada menos que 15 engenhos de açúcar da localidade de São Carlos (hoje município de Campinas) e contou com a participação de um liberto conhecido como João Barbeiro, morador da cidade de São Paulo. O episódio da frustrada revolta e a história dos principais conspiradores são temas abordados pelo historiador Ricardo Pirola no livro Senzala insurgente (Editora da Unicamp, 304 páginas). A obra deriva da dissertação de mestrado defendida pelo autor no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp, em 2005. No estudo, em que analisa a trama dos revoltosos e reconstrói suas trajetórias de vida até a conspiração, Ricardo demonstra que a família constituía o centro da organização política do grupo: os laços de parentesco estabelecidos, bem como a preservação do legado cultural centro-africano na rotina das senzalas, entre outros aspectos peculiares do perfil dos insurretos, deram coesão e sustentação ao movimento subversivo.

Na historiografia sobre o passado escravista brasileiro, inúmeros já foram os temas de análises, as fontes de pesquisa e as interpretações apresentadas. A própria insurgência na Campinas de outrora fora objeto de estudo conduzido pela pesquisadora da USP Suely Robles de Queiroz em 1977. Na ocasião, lembra Ricardo, Suely questionava a visão abrandada do cativeiro apresentada por alguns autores, responsável pela construção da imagem de um senhor de escravos benevolente e de um cativo fiel, submisso, resignado à sua sorte. A existência da trama de 1832 – que Suely resgatou a partir dos depoimentos transcritos do processo crime a que os revoltosos foram submetidos – demonstrava que os escravos não haviam sido figurantes mudos nos processos de transformações históricas em curso no Império.
A diferença fundamental entre os dois trabalhos acadêmicos separados por um arco de tempo de quase três décadas é que, enquanto Suely limitou-se a reconstituir a estruturação do plano da rebelião, Ricardo utilizou a mesma fonte como ponto de partida para uma investigação inédita acerca daquela ampla mobilização coletiva das senzalas, em que procurou reconstruir a trajetória dos escravos rebeldes até o levante.
Para elaborar a biografia coletiva dos principais dirigentes do plano, entre os 32 indiciados como os mais envolvidos no movimento, o historiador utilizou a metodologia da ligação nominativa de fontes, cruzando os nomes registrados no processo crime com as informações disponíveis nos censos populacionais local e nos registros de batismo e casamento escravo. Recorreu também aos inventários post-mortem, (documentos contendo a lista nominativa de avaliação dos escravos existentes na hora de sua morte) abertos entre os anos de 1801 e 1835.
“Dessa forma, foi possível rastrear o paradeiro dos revoltosos de 1832 em diferentes fontes e em diferentes épocas da vida deles antes do envolvimento com a trama”, conta o autor do estudo.
Vínculos sólidos
Ao acompanhar as trajetórias dos rebeldes de 1832, Ricardo pode trazer à tona características pessoais dos insurgentes e revelar como o conluio foi solidariamente urdido nas senzalas.
Os conspiradores não eram cativos que haviam acabado de desembarcar, tentando escapar o mais rápido possível da escravidão. A maioria aportara em Campinas no final da década de 1810 e início da década seguinte, e quando da articulação da rebelião, conheciam bem a língua portuguesa, as estratégias de controle senhorial, as matas e terras da região. A pesquisa também apontou que boa parte dos revoltosos de 1832 conseguiu se casar e formar família durante os anos de cativeiro em Campinas.
Portanto, a união dos cativos das propriedades envolvidas no plano da revolta não ocorreu apenas momentaneamente para a organização do movimento. Na verdade, desde os primeiros anos do século 19, se estabeleceu entre eles sólidos vínculos de parentesco a partir das alianças em casamentos e do compadrio em batismos que contribuíram para conectar diversos grupos de africanos entre si. Desse modo, esposas, filhos, compadres e comadres ajudavam a compartilhar a dura rotina do cativeiro. Mais que isso: unidos em torno de tradições e valores próprios, consolidavam uma identidade e se fortaleciam na resistência à política senhorial. Semeava-se, assim, o terreno da insurreição.
Ele também constatou que alguns dos conspiradores, com o decorrer dos anos, conseguiram ocupar cargos especializados nas propriedades em que viviam, como o de ferreiro, tropeiro e cozinheiro. Pelas próprias características dos trabalhos que desempenhavam, desfrutavam de maior autonomia de movimento e de proximidade com a casa senhorial. Tinham, por isso, maiores chances de acumular pecúlio e, eventualmente, de alcançar a alforria, quando comparados com os escravos trabalhadores da roça.
A investigação traz importantes contribuições ao debate historiográfico sobre a influência de fatores como aqueles identificados por Ricardo – a formação de famílias, a ocupação de cargos de confiança e a herança cultural africana – na mobilização coletiva dos negros em torno de revoltas. Diferentemente das interpretações que enxergam no casamento escravo e nas políticas senhoriais de incentivo de aproximação com a casa-grande (via trabalho especializado e doméstico) motivos para a formação de uma espécie de casta pacificada na comunidade escrava, o estudo esclarece que, pelo menos nas propriedades campineiras da primeira metade do século 19, a existência de grupos escravos socialmente distintos não levou ao racha das senzalas.
“Na verdade, o casamento e o trabalho especializado não só não inibiram um projeto de revolta, como foram importantes para amarrá-lo e estruturá-lo. Foi justamente a mobilidade dos tropeiros que permitiu a união do projeto entre as cidades de Campinas e São Paulo, assim como foram as habilidades do ferreiro que ajudaram no fornecimento de armas para a revolta”, ilustra o autor de Senzala insurgente.
Ele ainda observa que o fato de grande parte dos envolvidos no projeto de insurreição encontrar-se mais próxima do mundo dos livres do que dos demais cativos, fosse pela ocupação de uma tarefa da confiança senhorial, fosse pela rede de parentesco em que estavam inseridos, não os impediu de arriscar essas conquistas ao se unirem ao resto do grupo para arquitetar a conspiração. Mesmo quem já havia alcançado a liberdade tão almejada, como João Barbeiro, não se furtou de lutar contra a escravidão ao lado de seus conterrâneos ainda cativos.
Do mesmo modo que as diferenças sociais, as distinções étnicas não impuseram fronteiras intransponíveis para a união dos conspiradores. Escravos do Congo Norte, de Angola e de Moçambique se misturaram aos crioulos tanto na revolta como fora dela, revela a pesquisa.
“Embora os revoltosos formassem uma comunidade, digamos, mais diferenciada nas senzalas, eles não viraram as costas aos demais membros. Uma das hipóteses capaz de explicar essa solidariedade era o compartilhamento de uma origem comum africana”, interpreta Ricardo. “Não foram apenas os limites entre as propriedades que os escravos derrubaram para a formação do plano de insurreição.”
Poder espiritual
Heranças religiosas trazidas da África Central e que permaneceram sendo cultivadas nas senzalas em rituais cotidianos também tiveram reflexo na aglutinação do grupo insurgente. Isso fica muito claro na análise do perfil das principais cabeças da revolta, o escravo Diogo Rebolo e o liberto João Barbeiro, salienta o historiador. Ambos eram grandes lideranças espirituais, respeitados por suas habilidades de comunicação com o outro mundo e desempenhavam papel fundamental de proteção da comunidade cativa.
A influência espiritual exercida sobretudo por Diogo Rebolo fez com que se tornasse também o principal articulador do plano para toda a Vila de Campinas. Responsável por presidir as reuniões dos amotinados e ser o caixa principal do dinheiro arrecadado, “pai” Diogo tinha ainda na organização da trama a função de preparar as “mezinhas” (chás à base de raízes que os escravos acreditavam ter o poder de “fechar o corpo” nos confrontos previstos na rebelião) que eram vendidas para gerar recursos necessários à compra de armas ou trocadas com outros objetos de valor.
Principal cenário da trama reconstituída por Ricardo, a Vila de Campinas já era, no início do século 19, uma das principais áreas produtoras de cana-de-açúcar do país. Sua população escrava passava da casa dos 5 mil, superando o número de habitantes livres, e frequentemente suspeitas de insurreição deixavam a cidade em alerta, comenta Ricardo. O risco de uma revolta escrava causava grande temor e apreensão nas autoridades locais e, principalmente, nos senhores de engenho. Para estes, uma rebelião representava a perda da escravaria (devido às prisões de revoltosos) e o consequente comprometimento da produção agrícola. Por isso, a descoberta do plano de revolta de 1832 reacendeu o pânico que fora vivenciado pela cidade em outras ameaças de insurreição, na década de 1820 e em 1830.
O que se conclui da leitura dos depoimentos no processo crime, de acordo com Ricardo, é que o plano de revolta de 1832 estava muito bem organizado em termos de armamento, comando e divisão de tarefas. Conforme ele apurou, no momento em que foi descoberto, o plano já possuía ramificações em 15 grandes fazendas de Campinas, pertencentes a 11 distintos proprietários. Como exemplo da estratégia montada, cada uma delas possuía um escravo intitulado “capitão”, que tinha a função de convidar outros parceiros para a revolta e também a de arrecadar dinheiro. As investigações das autoridades mostraram também que o liberto João Barbeiro estava convidando outros escravos moradores da cidade de São Paulo para se juntarem ao levante.
As informações extraídas dos interrogatórios dos escravos também não deixam dúvidas acerca do objetivo principal dos revoltosos, conforme as palavras de um deles ao responder sobre a finalidade dos ajuntamentos noturnos que faziam escondidos dos senhores: “levantar afoitamente, matar [os brancos] e ficarem eles pretos todos forros”.
Para frustração dos revoltosos, porém, nem tudo saiu como o planejado: o comportamento insubordinado de alguns dos envolvidos acabou despertando a atenção senhorial. O plano foi abortado antes de sua eclosão, impedindo “pai” Diogo e seus empolgados seguidores de levar adiante os intentos de liberdade.
Da vasta documentação a que teve acesso para elaborar a minuciosa dissertação agora publicada em livro, Ricardo só lamenta não ter localizado a pintura da coroação do negro retirada das mãos do escravo Joaquim Congo, embora originalmente a obra tivesse sido anexada ao processo crime. Informações transcritas de uma cópia do processo é que lhe permitiram descrever a figura e narrar as circunstâncias de seu aparecimento no episódio de 1832. Não se sabe o paradeiro da imagem. Talvez, assim como as esperanças de liberdade que se volatizaram com o fracasso da insurgência, o desenho que materializava em seus contornos a ambicionada ascensão social dos negros tenha também se desvanecido.
SERVIÇO
Título: Senzala
insurgente
Autor: Ricardo
Figueiredo Pirola
Edição: 1a
Páginas: 304
Jornal Unicamp
 Em 23 de maio de
1932, estudantes reuniram-se na região central de São Paulo com o objetivo de
se manifestarem contra o governo de Getúlio Vargas. Naquela data, quatro deles
foram mortos pelas forças leais ao presidente da República. Isso causou enorme
comoção popular. Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo, os MMDC, tornaram-se
símbolos da Revolução que eclodiria em seguida, a Revolução Constitucionalista
de 1932.
Em 23 de maio de
1932, estudantes reuniram-se na região central de São Paulo com o objetivo de
se manifestarem contra o governo de Getúlio Vargas. Naquela data, quatro deles
foram mortos pelas forças leais ao presidente da República. Isso causou enorme
comoção popular. Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo, os MMDC, tornaram-se
símbolos da Revolução que eclodiria em seguida, a Revolução Constitucionalista
de 1932. 
















 Na historiografia sobre o passado escravista brasileiro, inúmeros já foram os temas de análises, as fontes de pesquisa e as interpretações apresentadas. A própria insurgência na Campinas de outrora fora objeto de estudo conduzido pela pesquisadora da USP Suely Robles de Queiroz em 1977. Na ocasião, lembra Ricardo, Suely questionava a visão abrandada do cativeiro apresentada por alguns autores, responsável pela construção da imagem de um senhor de escravos benevolente e de um cativo fiel, submisso, resignado à sua sorte. A existência da trama de 1832 – que Suely resgatou a partir dos depoimentos transcritos do processo crime a que os revoltosos foram submetidos – demonstrava que os escravos não haviam sido figurantes mudos nos processos de transformações históricas em curso no Império.
Na historiografia sobre o passado escravista brasileiro, inúmeros já foram os temas de análises, as fontes de pesquisa e as interpretações apresentadas. A própria insurgência na Campinas de outrora fora objeto de estudo conduzido pela pesquisadora da USP Suely Robles de Queiroz em 1977. Na ocasião, lembra Ricardo, Suely questionava a visão abrandada do cativeiro apresentada por alguns autores, responsável pela construção da imagem de um senhor de escravos benevolente e de um cativo fiel, submisso, resignado à sua sorte. A existência da trama de 1832 – que Suely resgatou a partir dos depoimentos transcritos do processo crime a que os revoltosos foram submetidos – demonstrava que os escravos não haviam sido figurantes mudos nos processos de transformações históricas em curso no Império.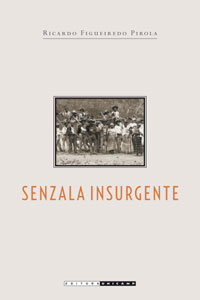
 “III Colóquio Escritas da Violência – Representações da Violência na História e na Cultura Contemporâneas da América Latina”, pesquisadores do continente refletem sobre a problemática da violência nos países que constituem o bloco.
“III Colóquio Escritas da Violência – Representações da Violência na História e na Cultura Contemporâneas da América Latina”, pesquisadores do continente refletem sobre a problemática da violência nos países que constituem o bloco. 